Tecer o plano
- Uma pá de histórias
- 7 de dez. de 2015
- 13 min de leitura
Capítulo 1
Em cada uma de minhas veias, de meus órgãos, há histórias acontecendo, esperando para serem contadas. São relatos ficcionais que escorrem das pessoalidades de cada um, são biografias que inspiram, são sentimentos expressados para o mundo. Vejo diariamente narrativas potenciais, mas, apesar de todos os meus testemunhos, faltava-me uma voz. Nas mãos, lentes e bocas de alguns a encontro. Siga comigo, ache-a também por esse roteiro, por essa narração, por essa reportagem Seriada.
* * *
— Trouxe alguma coisa pra comer?
O homem deu como resposta o silêncio.
— Mas você é inútil mesmo! Não tem capacidade nem de trazer comida pra dentro de casa?! — gritou a mulher.
Ela pegou um caneco de latão e o arremessou no filho. O homem não precisou se desviar para que o objeto não acertasse sua face. Em meio às provocações da mãe, o silêncio era o seu melhor escudo.
— Eu tento te ajudar, meu filho — sussurrou ela.
Então ergueu a voz, séria:
— Deus é testemunha de que eu tento te ajudar! Eu me sacrifiquei e pra quê? Mas você não dá importância pra isso, num é? Meu Deus do céu, parece até o Demo querendo atrapalhar minha vida.
E em silêncio ele carregou as palavras bruscas, cruéis, que a mãe sempre lhe destinava excessivamente. E tais palavras haveriam de assombrar não só seus pensamentos, mas também seus mais profundos pesadelos. E talvez aquele fosse apenas um horrendo devaneio: imagens de carnes penduradas, vísceras e miolos espalhados, fetos; tudo isso atormentava sua mente mais do que a brutalidade da mãe. Apenas um flash, rápido, que desapareceu com a mesma velocidade com que surgiu, no entanto arrebatador o suficiente para guardar em uma lembrança que ele preferiria esquecer, apagar como uma vela que se acende no escuro e logo se consome.
Quando seus olhos se abriram em susto, tal que seu coração disparado tanto lhe lembrava, o dia já havia sido exposto no céu claro. Ele caminhou até a cozinha, onde sua velha mãe já se servia do almoço. O homem se aproximou, tentou abraçá-la, entretanto ela se afastou sem sequer lhe destinar o costumeiro olhar sério e repleto do peso da idade, as aparentes rugas. Ela o perscrutou por um breve momento, apenas quando o filho se afastou, e logo voltou a atenção para o prato diante de si: uma sopa que ela não tinha prazer nenhum em comer, mas remexia e mergulhava sua colher como se o ato repetitivo lhe abrisse o apetite.
— Você vai mesmo colocar sua velha mãe pra fazer esse trabalho pra você? — questionou a mulher. — Num aguento mais essa carne.
O silêncio novamente foi o escudo no qual o homem se revestiu contra as acusações da própria mãe. Dos seus lábios, nenhuma palavra veio, nem um chiado, nem um murmúrio de reclamação, tal como o Jesus retratado em um quadro na cozinha que tudo via, mas se matinha distante, soturno, emudecido ou como as velas insistentes, que noite e dia queimavam em nome dos santos que a velha mulher tanto se devotava. Ao ignorar as palavras da mãe, ele seguiu com seu gesto: pegou um prato e já se preparava para ocupá-lo com comida, no entanto ao ouvir o ruído da louça, a mulher gritou:
— Larga aí! Não tem comida pra você, não. Deixa isso aí.
Sem resposta, ele então deixou o prato ao lado das muitas imagens de santos e das velas. A mãe fez o mesmo, não quisera comer metade da sopa. Quando ela se virou, com os dedos sorrateiros e sem fazer ruído algum, ele foi até os restos da comida e pegou um pedaço de carne para si, o qual ele colocou na boca e lentamente mastigou. Sentiu mãos atá-lo nos ombros e o olhar frio e sério da mãe a vigiá-lo e puni-lo. A voz da mulher encheu-se de malícia para acompanhar o sádico sorriso que se formou em seus lábios.
* * *
— Cortaaa! No set, o diretor grita para cortar a cena e diz que retomariam as gravações em alguns minutos. A tensão do que havia sido dramatizado se esvai um pouco, mas não totalmente, pois os trabalhos do dia ainda não estavam concluídos e incorporar novamente esse sentimento não é tarefa tão fácil. Sandra Emília, a atriz que interpreta a mãe em “Cabrito”, filme do diretor juiz-forano Luciano de Azevedo, vai para um canto se concentrar nas falas seguintes. Mas o caminho dela nem sempre esteve em frente às câmeras.
Quando tudo parece previsível, a vida surpreende com uma mudança e abala as estruturas daquilo que parecia organizado. Foi assim com a artista.
* * *
Tudo começou em um encontro informal com a atriz Norma Bengell em Brasília. Na ocasião, Norma disse que detestava teatro, pois a ideia de repetir o mesmo texto e executar as mesmas ações sempre era chato. Essas palavras não saíram da cabeça de Sandra, algo intrigante e, ao mesmo tempo instigante, fazendo “brotar” uma pergunta: se um dia me aventurar nesse universo, saberei como agir? Sentimento típico de quem está disposto a desbravar um terreno totalmente novo.
Adélia Prado foi a responsável indireta por transportar Sandra Emília para as telonas. Foi depois de recitar o poema Nossa Senhora da Conceição, do livro Oráculo de Maio, que a atriz começou sua trajetória. Talvez não tenha sido amor à primeira vista, mas de alguma forma foi inesquecível.
* * *
Momentos marcantes são coisas muito individuais. Podem ser divisores de águas, que vão mudar carreiras e perspectivas ou podem ser apenas instantes de emoção que não vão alterar as coisas, mas que merecem ser lembrados pra sempre.
Pode ser uma leitura feita, uma oportunidade abraçada, um amor conquistado, um assalto sofrido, uma viagem esperada ou, simplesmente, uma mudança forçada.
* * *
Pronto, última caixa lacrada. Minha mão suja de tanto embrulhar coisas em jornais. O coração apertado pela despedida. Onde está o meu ursinho? Manhêeeeeeeeeeee? Os últimos segundos são os mais dolorosos. As paredes começam a gritar e os olhos relembram cada aventura vivida na torre do castelo. Lembro do dragão atacando nosso reino e da neve congelando a cabana feita de lençóis. O colchão ainda tem cheiro de pólvora das batalhas entre piratas. E uma mancha verde de tinta no canto da janela conta o dia em que o quarto se tornou uma selva.
A cada degrau que eu descia mais vontade tinha de voltar. Por que temos que nos mudar? A casa é ótima, não preciso de outra. Mas minha mãe disse que era necessário. Não entendo por que os adultos acham que tudo que é ruim ou chato é algo necessário. Para mim necessário é comer, tomar água e brincar na rua no sábado. Isso sim é indispensável. Será que ninguém me ouve? Eu não quero me mudar!

(Foto: Leiliane Germano)
No fim da escada vi uma caixa mal fechada me mostrar a beirada de um álbum. Sentei. Nove anos em algumas fotografias. Parece que foram ontem meus primeiros passos em cima do tapete da sala. Ainda me lembro do dia em que quebrei o bibelô que minha mãe ganhou da vovó. Nunca tive tanto medo de ser descoberto. Sentirei saudades dos almoços de domingo na varanda, de meu pai me balançando na gangorra, do cheiro do pão de queijo nas tardes de feriado.
Que graça que vai ter passar Natal, aniversário e páscoa em outro lugar? Eu nem sei se lá terá espaço para minha mãe fazer o caminho do coelhinho até os ovos de chocolate. E se não tiver espaço para fazer a minha festa de aniversário? Abandonar aquilo que se ama é dolorido. É pior do que cair e se ralar todo ou apanhar em uma briga na porta da escola. É como se um pedacinho nosso ficasse fincado no antigo lar e o coração já não fosse inteiro para a nova jornada. Algum pontinho meu ficou aqui, enterrado debaixo do carpete.
* * *
Os pedaços de Lucas ficaram escondidos em sua casa antiga, em “Nham Nham — A criatura”, de Lucas de Barros, mas há quem esqueça partes de si em outras pessoas. E essas “lembrancinhas” que deixamos, seja por saudade, arrependimento ou simplesmente por expectativas criadas, podem nos deixar na fossa — quantas histórias assim já não presenciei, caro amigo?
“Dizem que para vencer uma fossa é preciso um pouco mais de dois anos.” Um ditado que talvez se aplique à criança, apesar de eu apostar em uma recuperação mais rápida. É fato que os pequenos tendem a se curar com menos esforço. Mas com certeza, ao mesmo tempo, em algum lugar, há diversos adultos para endossar a afirmação. É o caso de Filipe Matias, diretor do curta “Fossa”.
* * *
Dezembro de 1988. Vim de longe. Ainda pequeno, desaguei aqui nesse solo e de brasiliense logo me tornei juiz-forano. Desde cedo sou artista, dizem que quando eu era criança era fácil me aquietar, bastava algo com que eu pudesse criar. Acho que já nasci arquiteto. Eu era uma criança muito tímida a ponto de meus pais me colocarem no teatro e na oficina de contadores de histórias. As minhas pinturas sempre foram um termômetro do meu coração.
Quando eu tinha uns treze anos, recebi de minha tia papeis e mais papeis, lápis de todas as cores, materiais de minhas invenções. Das grandes oportunidades que tive, uma das mais significativas foi minha viagem a São Francisco. Em solo estadunidense me esperavam vinte e duas telas ansiosas por vida. Foi então que lá longe de meu berço vi minhas obras tomarem forma e arrancarem sorrisos.
Nunca andei sozinho. Que graça tem a trilha sem alguém para prosear? De um coração para outro, me aconcheguei, fiz ninho e abandonei, levando um pouco do que cativei. Não sabia o que era solidão, até o dia em que com ela eu cruzei. Amor é coisa que pega a gente, de mansinho. Um dia, estava em uma esquina do velho centro da cidade, em meio a pipoqueiros e raios de sol, como um balão que desce do céu. Em um tropeço nem um pouco dolorido, nos vemos amarrados a uma cordinha que para longe leva o nosso coração.
“Coração é uma terra onde não existe lei, onde perdi o controle daquilo que semeei. Nasce tudo o que é plantado, o intruso vira rei.” Do nada, surgem cores como se a tela começasse a se movimentar. O frio na barriga, a boca seca e a insegurança gostosa do medo de perder o outro faz cada dia ser uma nova aventura. Amar é bom. Faz cócegas e dá palpitação. É veneno e remédio. É sorriso e lágrima contida. Amar nos faz cantar debaixo da janela alheia, largar a bebida e esquecer o cigarro. Faz suar no frio e sonhar acordado. Mas infelizmente tenho algo a te dizer. Nem só de flores e poesia vive uma relação. Fui descobrir o encanto dessa história quando “botei meu coração para viver fora do corpo”.

(Foto: Caroline Marino)
* * *
Amor é sempre um assunto delicado, seja quando o sentimento existe por outra pessoa, por objetos com histórias marcantes ou por um ofício. Essa sensação que cresce dentro da gente e abocanha uma boa parte dos nossos pensamentos diários existe em diversas histórias que em mim habitam. Histórias de jovens profissionais, de experientes roteiristas, daqueles que vivem e encenam as mais diferentes narrativas.
Não se deixe enganar, meu caro, o amor por uma atividade, por exemplo, faz com que cada um a performe melhor. É como dizem da comida de mãe, que tem o carinho como tempero. No resultado final — de uma entrevista, de uma atuação, de um texto — há sempre um diferencial, que pode ser visto escorrendo entre as palavras escritas, ou dos olhos a cada atuação.
* * *
Ao fim da entrevista, depois de meia hora de conversa, Marcinha estava no chão, ajoelhada. Aquela não era mais a professora Márcia Falabella, aquela era uma criança de 10 anos. Ou melhor, Marcinha era, a partir daquele momento, uma das muitas personagens vividas nas suas três décadas de carreira. Dois minutos antes, era Cida e estava ao telefone procurando por Nilda.
— Saiu? Mas como saiu? Ela nem me falou nada.
(Vídeo: Caio Assis e Jéssyka Prata)
A naturalidade com que uma atriz se transforma em um personagem, como Márcia Falabella fez, impressiona. Costumamos atribuir isso ao dom, ou talento do artista, mas nessa conta entra também um trabalho muito bem feito, que vai desde a escolha do sapato — podendo dar mais ou menos mobilidade ao ator — aos elementos dispostos no figurino e no cenário — que possibilitam uma maior interação entre personagem e ambiente.
Um de seus trabalhos cinematográficos foi no curta Jonathan, de Mariana Musse, que estreou no CineArte Palace em 2015, local onde aconteceu a última edição do Festival Primeiro Plano. O curta é baseado no poema “A criatura”, de Adélia Prado, e conta a história de Lara, personagem principal interpretada por Marcinha.
Por se tratar de um poema de Adélia Prado, explica a atriz, o esperado era um texto mais narrativo. Mas não. O filme é praticamente um monólogo em que Lara divide cena com um pintinho.
— Tem outros personagens também. Tem lá a figura da amiga dela, tem a figura do porteiro, mas fundamentalmente é ela e um pintinho. E tem outra coisa também: eu tenho fobia de bicho.
Para uma profissional de fato viver um personagem, o trabalho vai além da caracterização. Enquanto a atriz Márcia Falabella tem fobia de bicho, a mulher vivida por ela não. E interpretá-la faz parte da sua profissão.
* * *
Mesmo quando as cenas parecem improváveis e exageradas, o que está sendo contado nas telas nos convence, nos leva a crer e a imergir nelas. Talvez por isso, e por nunca ter participado dos bastidores, muita gente tenha uma visão idealizada do que é fazer cinema.
* * *
Se você acha que fazer um filme é só pegar uma câmera, apontar para os atores e pronto, seu trabalho já está feito, você está muito enganado. Fazer cinema significa ficar horas e horas em pé, repetindo cenas, enquadramentos e falas. Significa preparar o cenário horas antes, por que até que a luz, a composição e cada mínimo detalhe esteja do jeito imaginado é uma eternidade.
Constatamos isso quando fomos convidados pela diretora Mariana Musse para acompanhar e fotografar os bastidores do seu curta “Jonathan”. Nele, Lara é uma escritora que se apega ao passado como forma de lidar com o presente. Ela constrói, junto ao telespectador, suas memórias e sua melancolia.
Foi a primeira vez que nos envolvemos em uma produção cinematográfica profissional. Se houve algo que aprendemos acompanhando as gravações do “Jonathan” é que fazer um filme não é glamoroso ou fácil. Cinema é suor.
* * *
Sabemos o esforço que é começar no cinema — e permanecer nele. Já vi vários que começaram enviando para festivais suas produções amadoras, mas com bastante qualidade. No entanto, essa não é uma arte solitária. As mãos que trabalham o cenário, as câmeras, as luzes, que dirigem as cenas, os atores, a fotografia, são muitas! E as coincidências de uma cidade pequena e um tanto cosmopolita podem fazer com que o conjunto certo de mãos venha a se juntar.
Muitos caminhos levam ao encontro. De alguma forma, as mentes se conectam quando os objetivos se tornam paralelos. Essa é a história de um sonhador entre tantos outros: Aleques Eiterer, cineasta, nascido em 22 de março de 1972. Imaginem a cena.
* * *
Um garoto sentado em frente à TV assistindo a quatro caras malucos fazendo a maior lambança em situações inusitadas. O riso corria solto e não era pra menos. No final da década de 70 até meados dos anos 90 era bem comum ficar com a barriga doendo de tanto rir dos Trapalhões. Também era pouco provável ficar indiferente diante do grande número de produções hollywoodianas. Aleques rememora este frame essencial para continuarmos colando as fotografias até que a obra fique completa.
No período da adolescência, ainda morando em Juiz de Fora, foi apresentado ao cinema de Fassbinder (1945–1982). Um cinema diferente e instigante, muito embora o interesse pela sétima arte ainda não fosse tão latente. A ideia de criar continuaria encubada. Eiterer continuou vivendo como qualquer garoto de sua idade. O tempo passou e, aos 20 anos, pegou a estrada e foi trabalhar em Três Corações, cidade ao Sul de Minas Gerais.
Corria o ano de 1995. Nascia o Festival Brasileiro de Cinema Universitário da UFF. A maratona de curtas era intensa. Aleques acompanhava o maior número possível de filmes e consequentemente passou a ajudar na produção do Festival. Basicamente todo o trabalho ficava a cargo de alunos e funcionários da Universidade.
O cineasta nos conta que seu envolvimento com a arte surgiu diante do que lhe provocava a atenção e da vontade de dividir com outras pessoas. Dirigindo sete produções nesta forma de enquadramento, duas delas baseadas em parte da obra do escritor mineiro Luiz Ruffato. Sua mais recente criação é o documentário Araca sobre a sambista Aracy de Almeida. Aleques acredita que o projeto da “Fluminense” pode ser considerado o pai das experiências encenadas em outra grande iniciativa — o Festival Primeiro Plano.
No retorno à terra natal, Aleques uniu-se a um grupo de amantes do cinema, o “Luzes da Cidade” e desse encontro nascia o Primeiro Plano em 2002. As pessoas foram chegando e a forma gregária começou a delinear a silhueta do festival. — recorda o cineasta.
O Primeiro Plano foi pensado como um espaço de discussão cinematográfica e não apenas um evento de exibição. A possibilidade de trocar ideias sobre o processo, estimulando a produção local e ainda alcançar públicos até então alheios, tornou-se a força motora do que podemos assistir atualmente. O cineasta faz um comparativo:
— No início eram apenas quatro produções locais, hoje, chegamos à casa de 50 filmes inscritos. Isso é bem legal! Quanto mais gente melhor! E ver que essa produção vem crescendo não só em quantidade, mas, em qualidade, é muito importante.
No plano sequência, a organização decidiu olhar o festival com as lentes da inovação. Criou o Incentivo Primeiro Plano. Com o crescente apoio de patrocinadores, novos cineastas poderiam tirar das gavetas todas as cenas imaginadas e jogar luz sobre as histórias.Essa abertura tornou mais acessível fazer cinema em Juiz de Fora.
Entre 2005 e 2008, o poder público tendia a ser mais presente nas causas culturais. A iniciativa privada também contribuía de forma mais efetiva. Em 2015, já na sua 13ª edição, o festival segue firme. Conta ainda com o apoio do poder público, mas Aleques afirma que para a manutenção do projeto será preciso que o abraço seja um pouco mais forte. Como agravante, surge o possível fechamento do Cine Arte Palace, último cinema de rua da cidade, mas, CORTA! Isso já é assunto para a próxima sessão.
* * *
Há sessões de cinema com os mais diversos intuitos, dependendo do lugar em que você esteja. Enquanto um evento como o Primeiro Plano acontecia, enaltecendo a sétima arte, em um ponto mais distante, filmes eram projetados apenas como pano de fundo: o foco maior eram as pessoas que os assistiam.
* * *
Suados da caminhada sob o sol quente, passando pelas pessoas de pele curtida, ansiávamos por ver em um outro lugar coisas que saltassem aos olhos, explodissem os sentidos e surpreendessem os nossos pacatos costumes. Por mais que o ser humano seja principalmente visual, não era somente a vontade de ver algo que nos movia. O desejo vem de lugares muito mais subjetivos e é assimilado de maneiras bem mais abstratas. Pelo menos dessa parte tivemos certeza depois.
Os medos existiam, é claro. Um espaço dedicado a uma atividade quase mitológica como o sexo deveria ter um cheiro ocre, fluidos nas paredes, um suor mais denso que o nosso, toques mais invasivos, lascivos — poderiam ser íntimos? — relações mais… profundas. Mas poderia muito bem ser uma terra sem lei, um antro, um lugar de assédios. Os tempos são conturbados e as notícias que invadem as telas não costumam ser boas. Porém, analisando, preocupações muito fortes podem inibir quem queira se jogar no novo. No fim das contas, o que poderia dar errado? E assim fomos a um cinema pornô.
Ocultada por um vidro preto, uma mulher de unhas vermelhas bem cuidadas nos pede a identidade e o dinheiro da entrada, e nos retorna o documento, um cartão e um preservativo. Um sinal do que poderíamos encontrar atrás da porta de madeira.

(Foto: Hugo Queiroz)
* * *
Era apenas isso que separava o mundo exterior das salas de projeção. Independente das mudanças de regras da porta para dentro, este cinema ainda é meu domínio. Não se esqueça de que as regras são os homens que fazem, mas uma cidade — o espaço habitado — não se preocupa com julgamentos de valor. São as vivências que importam, as histórias. E elas continuarão sendo contadas enquanto mãos, lentes e bocas puderem dar voz ao que eu vejo.











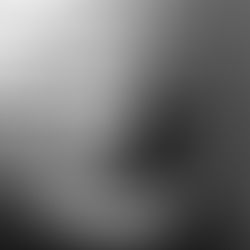









Comentarios